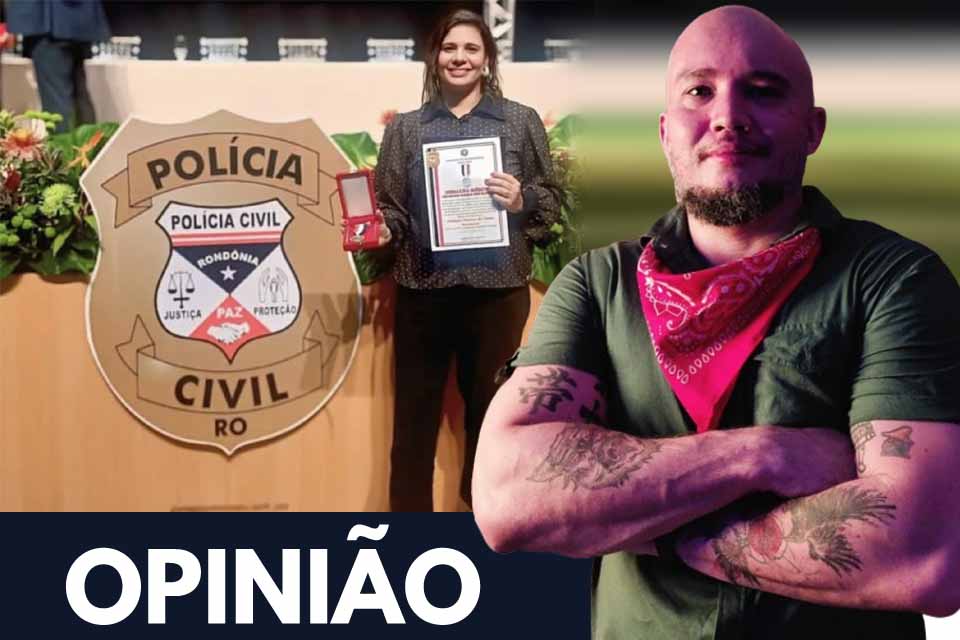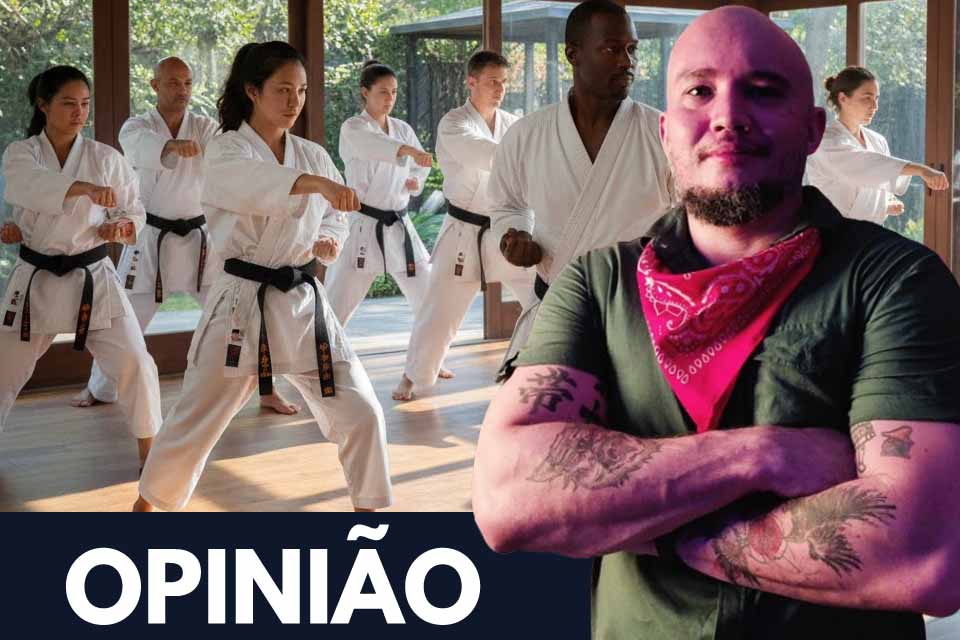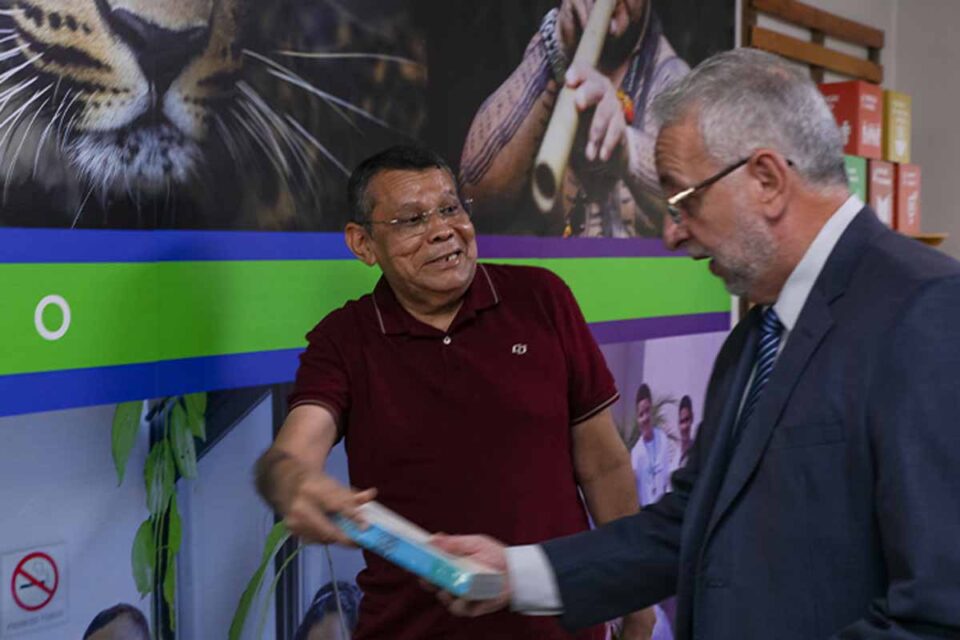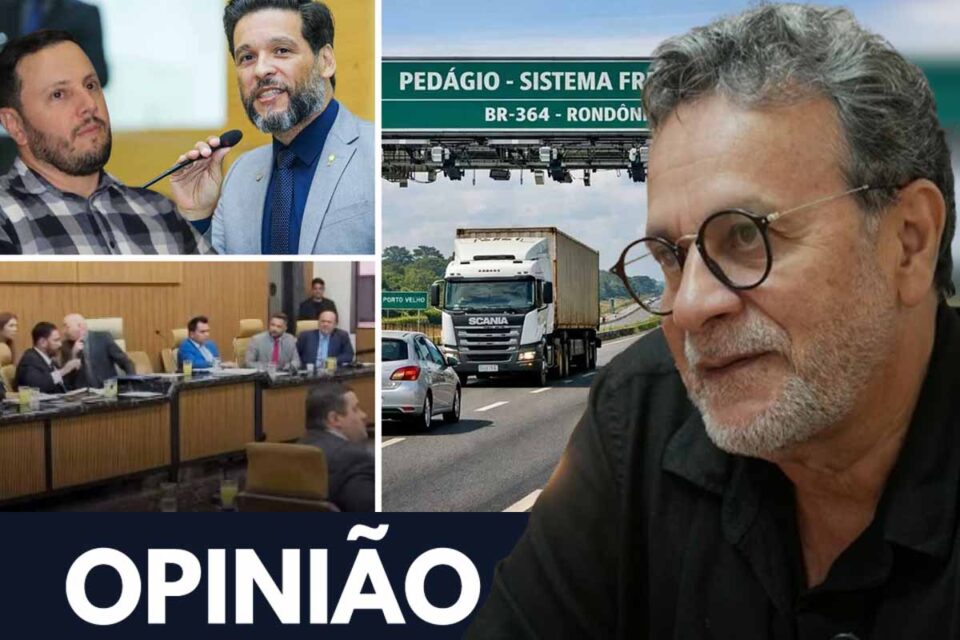Reflexão sobre uma “ciência beradeira” feita na Amazônia a partir de Rondônia, enraizada no território e voltada à descolonização do conhecimento
Por Rafael Ademir Oliveira de Andrade
Sociólogo, Doutor em Desenvolvimento Regional, Coordenador do Laboratório de Estudos em Populações Negligenciadas (Afya Porto Velho) e professor permanente do PPG em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (UNIR).
“Sou uma mulher da fronteira. Cresci entre duas culturas: a mexicana (com forte influência indígena) e a anglo. Tenho vivido entre a fronteira texano-mexicana, e outras, por toda a minha vida. Não é um território confortável de se viver, esse lugar de contradições. Ódio, raiva e exploração são as marcas mais evidentes dessa paisagem.” Gloria Anzaldúa, 2012.
‘A imagem que Gloria Anzaldúa constrói de si como “mulher fronteiriça” ecoa em muitos de nós que vivemos e pesquisamos a Amazônia. A fronteira, mais que um limite territorial, é uma condição existencial: o espaço tenso entre o dentro e o fora, o pertencimento e o afastamento. Habitar Rondônia, enquanto pesquisador das ciências humanas, é viver cotidianamente essa ambiguidade.
Somos parte da Academia por portar títulos e produzirmos ciência, mas permanecemos fora dela ao não reproduzirmos seus gestos, sotaques e preferências epistemológicas.
A ciência feita daqui, entre o rio e a mata, entre o concreto e o barranco do Madeira, continua sendo tratada como um saber menor. Carrego, como tantos outros colegas, a sensação paradoxal de pertencer e, ao mesmo tempo, de ser estrangeiro em meu próprio campo.
A fronteira amazônica, portanto, não é apenas geográfica. Ela atravessa corpos, instituições e modos de pensar. No caso rondoniense, ela se manifesta em múltiplas camadas: a fronteira econômica e ambiental da expansão agropecuária; a fronteira identitária entre o “Brasil” e a Amazônia; a fronteira acadêmica que marginaliza nossos saberes; a fronteira política conservadora; e, por fim, a fronteira da violência, que naturaliza a ausência de direitos.
Rondônia é, historicamente, um território de avanço. Estradas, pastos e lavouras substituíram a floresta em nome do desenvolvimento. O discurso de progresso encobre um processo de ocupação violenta, marcado pela grilagem, pelo desmatamento e pela expulsão de comunidades tradicionais. Dados recentes do INPE (2024) e do MAAP (2024) confirmam: o estado segue entre os campeões de perda de cobertura florestal da Amazônia.
Por trás desses números estão histórias de conflito. A Comissão Pastoral da Terra (2024) registra que Rondônia figura entre os estados com mais disputas no campo brasileiro, com centenas de ocorrências envolvendo milhares de famílias. Essa fronteira, longe de ser “vazia”, é densamente habitada: mas a presença de seus povos é sistematicamente negada. Como gosto de definir, trata-se de um “vazio anômico”, um território onde o direito é ausente e o silêncio é imposto como política.
As violências recaem com mais força sobre indígenas, quilombolas e ribeirinhos. O relatório do CIMI (2024) aponta crescimento nas invasões de terras, no garimpo ilegal e nos assassinatos de lideranças em Rondônia. Em paralelo, a presença de grupos armados e redes criminosas, ligados à madeira, ao garimpo e ao tráfico, amplia o clima de medo e impunidade. O que se vê é uma fronteira de guerra travestida de economia emergente. Superar esse quadro requer repensar o desenvolvimento para além do crescimento econômico. Significa articular proteção territorial, fiscalização efetiva e políticas públicas que considerem as singularidades das populações tradicionais. Mas também exige algo mais profundo: rever a própria matriz de pensamento que sustenta a noção de “fronteira” como espaço a ser conquistado.
A lógica da expansão não é exclusiva da terra. Ela se repete no campo do conhecimento. No Brasil, a produção científica ainda obedece a uma geografia hierarquizada, em que o eixo Sul-Sudeste detém o poder de legitimar o que é ou não é ciência. Rondônia, Acre, Roraima e Amapá formam o que o pesquisador da Fiocruz Rondônia Dr. Andreimar Martins Soares chamou de “arco da exclusão dentro da periferia”: regiões duplamente marginalizadas, com poucos doutores, programas frágeis e acesso restrito a recursos de pesquisa (SOARES, 2024).
Essa desigualdade é mais que material; é simbólica. Mesmo dentro das ciências humanas, a Amazônia é frequentemente vista como objeto, não como sujeito de reflexão. Dados, narrativas e experiências locais são extraídos por pesquisadores de fora, muitas vezes sem reconhecimento ou coautoria dos pesquisadores locais. Trata-se de uma atualização da colonialidade do saber (QUIJANO, 2000; MIGNOLO, 2003): um processo que subordina as epistemologias da floresta às epistemes do asfalto.
O resultado é um paradoxo cruel. Para alcançar reconhecimento, os pesquisadores amazônicos precisam seguir o modelo hegemônico de produtividade acadêmica, o “publique ou morra”, mesmo em contextos onde faltam infraestrutura, tempo e apoio institucional. A busca por legitimidade nos leva, muitas vezes, a reforçar os mesmos critérios que nos excluem. A luta para atender às exigências da CAPES é, aqui, uma luta literal por existência científica.
Por uma pesquisa beradeira
AS ÚLTIMAS OPINIÕES
Fazer ciência na Amazônia é, inevitavelmente, um ato de resistência. É produzir conhecimento desde o barranco, com os pés no barro e os olhos voltados ao céu. A “pesquisa beradeira”, termo que proponho para designar essa prática, nasce do contato direto com a realidade, da escuta dos povos da floresta e da recusa em separar o pesquisador do território que o forma.
Essa pesquisa não se opõe ao rigor, mas redefine o que se entende por rigor. Seu método é o entrelaçamento: a mistura entre a teoria e a vida, entre o laboratório e o igarapé. Ela valoriza o lugar como categoria epistemológica e reivindica o direito de pensar com o corpo, com a memória e com o afeto.
Ser pesquisador beradeiro é reconhecer-se habitante de uma fronteira e, ainda assim, escolher permanecer nela, não por conformismo, mas por potência. É compreender que o conhecimento também é território, e que defendê-lo significa lutar por condições materiais e simbólicas para existir. Rondônia, nesse sentido, é um espelho de contradições. Entre o isolamento e a invenção, entre o apagamento e a insurgência, formam-se coletivos, laboratórios e grupos de pesquisa que insistem em produzir desde o Norte, para o mundo. Há aqui uma ciência que fala devagar, mas fala em voz firme, uma ciência que não pede licença para existir.
Referências
ANZALDÚA, Gloria. Borderlands/La frontera: la nueva mestiza. Capitán Swing Libros, 2012.
MBEMBE, Achille. Necropolítica. Rio de Janeiro: Arte & Ensaios, 2016.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2000.
MIGNOLO, Walter D. Histórias locais / projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
ESCOBAR, Arturo. Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton: Princeton University Press, 2011.
SOARES, Andreimar M. Discurso no Simpósio de Pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa de Rondônia (FAPERO). Porto Velho, 2024.
CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (CIMI). Relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil: dados de 2023. Brasília: CIMI, 2024.
COMISSÃO PASTORAL DA TERRA (CPT). Conflitos no Campo Brasil 2023. Goiânia: CPT/Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno (Cedoc-CPT), 2023.
INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). Prodes – Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica por Satélite. São José dos Campos: INPE, 2024.
MAAP Project. Amazon Deforestation & Fire Hotspots 2024. Monitoring of the Andean Amazon Project, 2024.
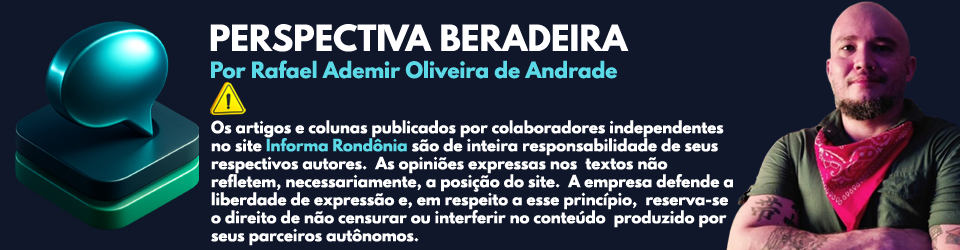
CONFIRA AS ÚLTIMAS COLUNAS DE RAFAEL ADEMIR:
COMENTÁRIOS:
NOME: Patrícia Dantas Fonseca
COMENTÁRIO:
Que gratificante ler algo tão relevante para o nosso estado de Rondônia, para o meu povo amazônico, pro meu norte. Me enche de emoção ver tantas verdades escritas de forma tão singular, uma produção de ciência e conhecimento evidenciando que não somos invisíveis. Parabéns Prof. Rafael .. "Fazer ciência na Amazônia é, inevitavelmente, um ato de resistência. "
13/10/2025