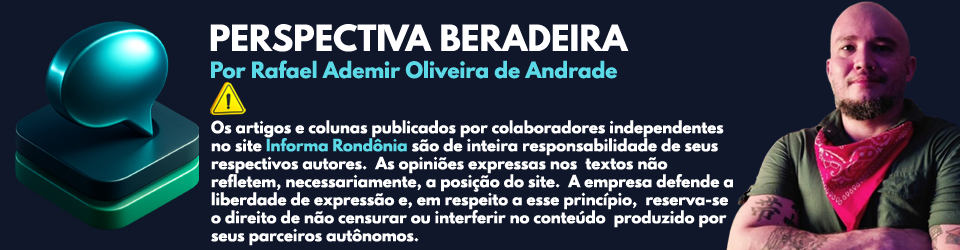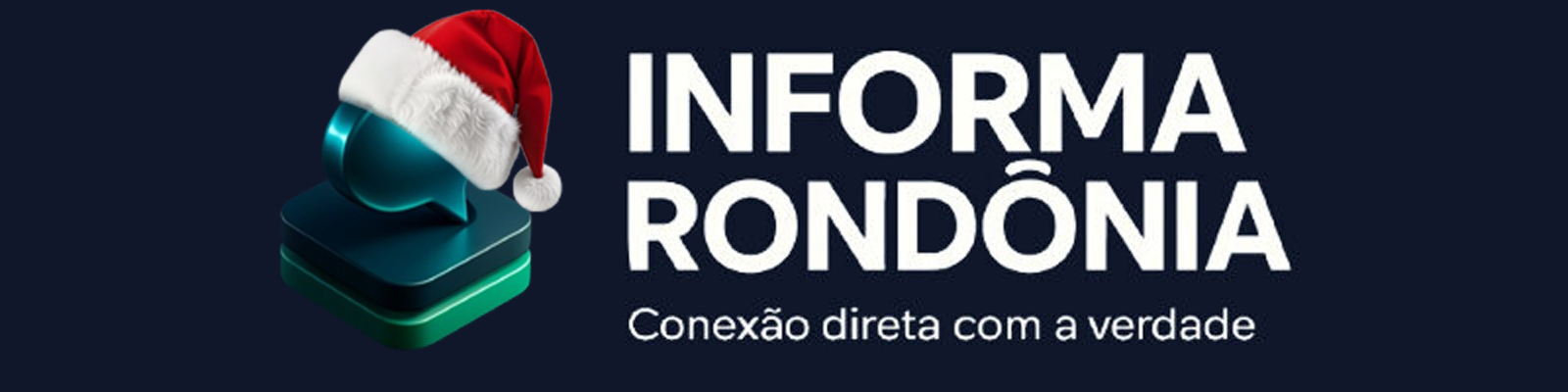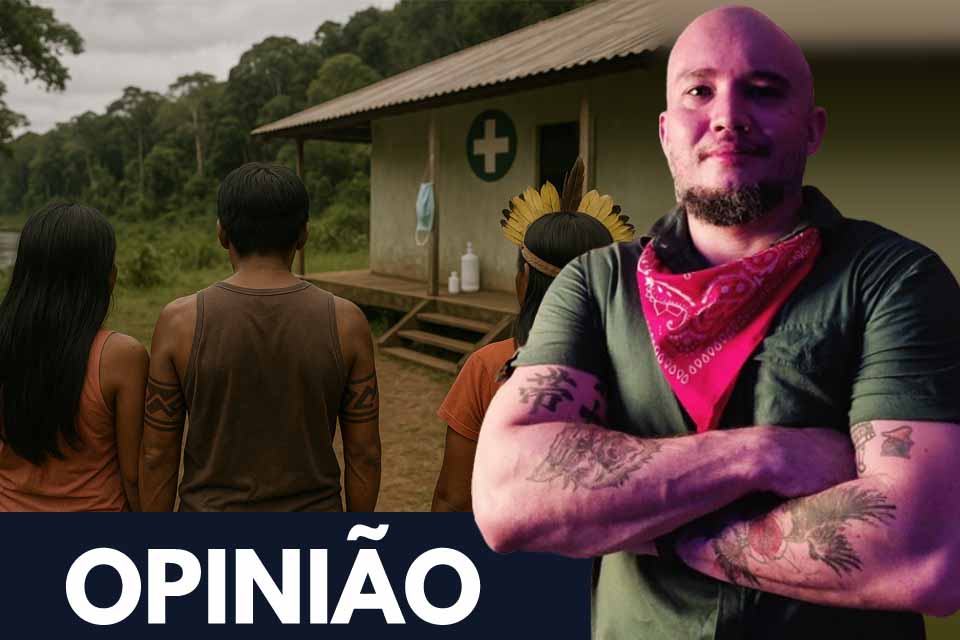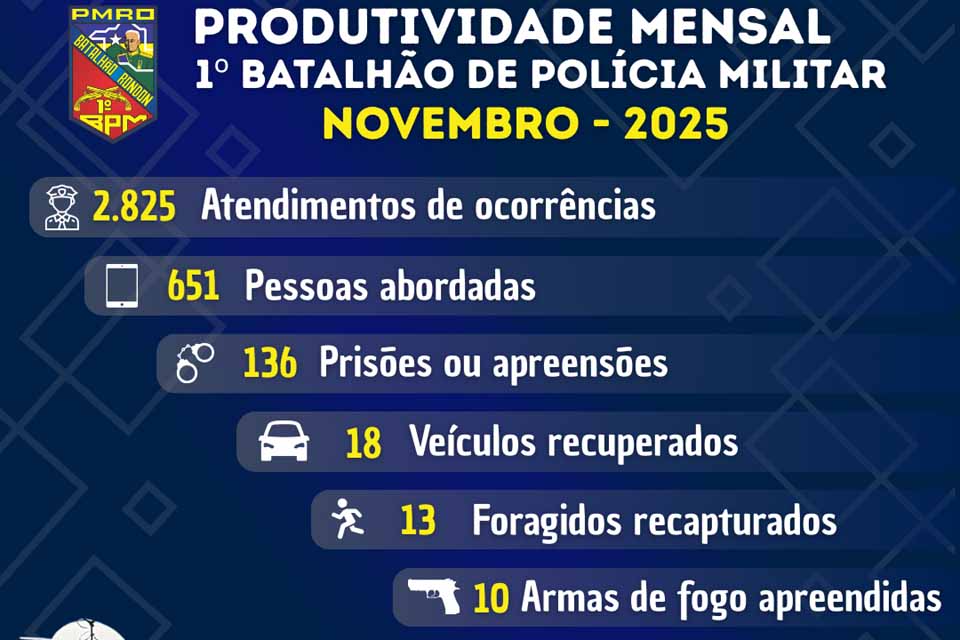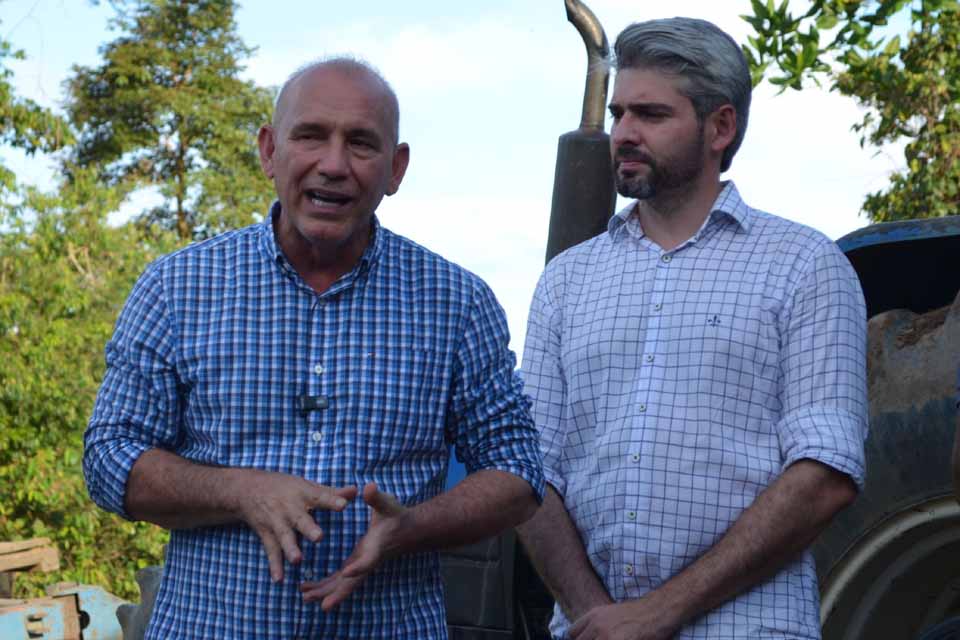Sete décadas depois de Darcy Ribeiro, os mesmos fantasmas: epidemias, omissão e resistência na saúde indígena brasileira
Por Rafael Ademir Oliveira de Andrade
Sociólogo, Doutor em Desenvolvimento Regional, Coordenador do Laboratório de Estudos em Populações Negligenciadas (Afya Porto Velho) e professor permanente do PPG em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (UNIR).
As reflexões de Darcy Ribeiro em Convívio e Contaminação (1956) destacam como epidemias, doenças novas e contato desigual desestruturam demograficamente e culturalmente povos indígenas. Mesmo depois de quase setenta anos, dados contemporâneos mostram que essas dinâmicas permanecem, embora em contexto diferente e com novas variáveis: como o Estado, políticas de saúde pública, pandemias globais, e crescentes pressões territoriais. Citamos alguns exemplos, desde os mais estruturais como a precarização da saúde indígena como um todo até casos específicos como o genocídio programado contra os Yanomamis do Brasil de 2019 a 2022.
Depopulação, mortalidade infantil e epidemias
Darcy Ribeiro (1956) assinalou que epidemias introduzidas pelo contato com não indígenas costumavam gerar mortandade alta e ruptura de práticas culturais, parentesco e subsistência. No Brasil recente, a mortalidade infantil entre indígenas é um dos indicadores mais alarmantes da persistente vulnerabilidade. Em 2023, por exemplo, o relatório Violência Contra os Povos Indígenas: dados de 2023, do Cimi, registrou 1.040 mortes de crianças indígenas de 0 a 4 anos, o que representa um aumento de aproximadamente 24,5% em relação a 2022.
As causas são, em grande parte, doenças evitáveis: gripe, pneumonia (141 casos), diarreia, gastroenterite, infecções intestinais (88 casos), desnutrição (57 casos) dentre crianças, além da falha no acesso a imunização, diagnóstico e tratamento adequados.
O que Ribeiro (1956) chamou de “mudança de hábitos alimentares” e perdas de práticas tradicionais se manifesta hoje na desnutrição infantil, falta de saneamento básico e água potável, condições elementares para saúde que muitas comunidades indígenas ainda não têm garantidas.
Covid-19, cobertura vacinal e desigualdades estruturais
Outro ponto central do artigo de Darcy Ribeiro (1956) é o papel de doenças “exógenas” (levadas por contato) e de respostas institucionais inadequadas (tanto de dentro quanto de fora, tanto do Estado quando das próprias organizações indígenas) encontra eco nos efeitos da pandemia COVID-19 entre indígenas. Estudo no Pará, por exemplo, analisou morbimortalidade por COVID-19 entre indígenas entre 2020 e 2022, identificando baixa cobertura vacinal em Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) como o Rio Tapajós e o Kaiapó do Pará, com primeira dose abaixo de 55%.
Esses dados revelam um padrão de desigualdade no acesso a serviços de saúde, reforçando a ideia de que convívio com o Estado ou com redes de saúde “brancas” não elimina os riscos, mas pode aumentá-los se não houver políticas culturalmente sensíveis, com planejamento e recursos adequados: exatamente o que Ribeiro criticava no SPI.
Violência, omissão e direitos territoriais como determinantes da “contaminação”
Além das doenças biológicas, Ribeiro destaca que o contato é sempre também político, econômico e cultural. Essa dimensão está clara hoje nos dados de violência contra indígenas: em 2023, foram 208 indígenas assassinados no Brasil, um aumento de cerca de 15% em comparação ao ano anterior.
Também foram reportadas mais de mil mortes infantis não só por doenças, mas por omissão estatal: falta de assistência médica, ações de saúde pública, infraestrutura de água e saneamento.
Essa “violência por omissão” pode ser vista como uma forma moderna de contaminação estrutural: não é somente o agente patogênico, mas a exposição prolongada à má condição social, ao descaso institucional, ao apagamento cultural que fragiliza populações inteiras.
A situação vivida pelo povo Yanomami em 2019 a 2023 constitui um exemplo emblemático da permanência dos processos analisados por Darcy Ribeiro. Denúncias encaminhadas por lideranças Yanomami e por organizações como a Hutukara Associação Yanomami mostraram que a invasão de mais de 20 mil garimpeiros ilegais no território resultou em destruição ambiental, contaminação por mercúrio e disseminação de doenças infecciosas, como malária, pneumonia e desnutrição grave em crianças (HUTUKARA, 2023).
De 2019 a 2022, as próprias comunidades enviaram pedidos formais de ajuda ao governo federal da época, alertando sobre o aumento da mortalidade infantil e a fome generalizada. Apesar dos pedidos e dos alertas de entidades como o Cimi e a Fiocruz, não houve resposta efetiva do governo federal, o que levou à intensificação da crise e à morte de centenas de indígenas por causas evitáveis (BBC NEWS BRASIL, 2023).
Esse episódio ilustra com clareza o conceito ribeiriano de “contaminação”: o contato não se restringe à transmissão de doenças biológicas, mas à exposição prolongada a um sistema político e econômico que destrói o território, inviabiliza a reprodução material e simbólica da vida e converte o abandono em política. A crise Yanomami revela, portanto, a continuidade das formas modernas de necropolítica (MBEMBE, 2016) aplicadas aos povos indígenas, nas quais o Estado exerce o poder de decidir quem pode viver e quem pode morrer.
Transfiguração étnica e resiliência
Por fim, Ribeiro (1956) propôs o conceito de transfiguração étnica: a ideia de que as culturas indígenas não desaparecem simplesmente, mas se transformam em contato com o novo, adaptando-se (ou resistindo) enquanto tentam manter seus modos de existência. Nos relatos recentes, há muitos indícios disso: práticas de cuidado comunitário, mobilização política indígena, exigência de participação no desenho de políticas, e formas de resistência cultural mesmo diante da ameaça sanitária e territorial. Em artigo desenvolvido após pesquisa com financiamento do CNPq no curso de Medicina, concluímos que durante a covid-19 os povos indígenas utilizaram fortemente de suas estratégias culturais para tentar sobreviver a uma doença que escancarou a falência do subsistema de saúde indígena do país.
Por exemplo, estudos de campo com povos Kaingang (TI Foxá/Lajeado), Tupinambá e Guarani-Kaiowá mostram como as comunidades percebem as políticas públicas de saúde, reclamam por atendimento compatível com seus saberes, e articulam demandas por saúde que incluam dimensões culturais.
AS ÚLTIMAS OPINIÕES
Concluindo…
Os dados atuais evidenciam que muitos dos mecanismos de dano identificados por Darcy Ribeiro (1956): epidemias, mortalidade, desnutrição, rupturas sociais, omissão institucional, continuam ativos no Brasil. A depopulação direta por doenças pode não ser tão abrupta como nos primeiros contatos históricos, mas a mortalidade infantil elevada, a mortalidade por doenças evitáveis, a cobertura vacinal desigual, e a violência institucional ou territorial formam um mosaico de continuo impacto, inclusive em direitos humanos básicos.
A transfiguração, mudança cultural, adaptações, resiliência, persiste como alternativa, mas sua efetividade depende de políticas que integrem o reconhecimento dos direitos territoriais, do saber indígena, e garantias efetivas de saúde pública que sejam sensíveis às especificidades culturais e geográficas. Sem isso, o “convívio” continua contaminado, biologicamente, socialmente, politicamente.
Referências
ASSMANN, B. F.; LAROQUE, L. F. S.; MAGALHÃES, M. L. et al. As políticas públicas de saúde indígena e a relação saúde-doença na percepção Kaingang da Terra Indígena Foxá/Lajeado durante a pandemia de COVID-19. Revista Prâksis, Novo Hamburgo, v. 2, p. 1–18, 2021. Disponível em: https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistapraksis/article/view/2834
. Acesso em: 13 out. 2025.
BBC NEWS BRASIL. Yanomamis pediram ajuda ao governo Bolsonaro em 2022 e não foram atendidos, dizem lideranças indígenas. São Paulo, 27 jan. 2023. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/articles/cqe7356r7dno
. Acesso em: 13 out. 2025.
CIMI – Conselho Indigenista Missionário. Violência contra os povos indígenas – dados de 2023. Brasília: CIMI, 2024. Disponível em: https://nesp.unb.br/saude-indigena-cimi-lanca-relatorio-de-violencia-contra-povos-indigenas-no-brasil-com-dados-de-2023-e-retrato-do-primeiro-ano-do-governo-lula/
. Acesso em: 13 out. 2025.
DE ANDRADE, Rafael Ademir Oliveira; MACHADO, Amanda. Políticas públicas e etno-estratégias para saúde indígena em tempos de Covid-19. Vukápanavo: Revista Terena, p. 261, 2020.
ESTUDO DE CASO TUPINAMBÁ: estudos sobre transculturalidade, políticas sociais e efeitos da COVID-19. Revista AlembrA, 2021. Disponível em: https://periodicos.cfs.ifmt.edu.br/index.php/alembra
. Acesso em: 13 out. 2025.
HUTUKARA Associação Yanomami. Relatório: Yanomami sob ataque – Invasão garimpeira e omissão estatal. Boa Vista, 2023. Disponível em: https://www.hutukara.org/yanomami-sob-ataque/
. Acesso em: 13 out. 2025.
MBEMBE, Achille. Necropolítica. Rio de Janeiro: n-1 Edições, 2018.
MORBIMORTALIDADE por COVID-19 e cobertura vacinal entre indígenas no Pará. Revista Enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj
. Acesso em: 13 out. 2025.
NESP – Núcleo de Estudos de Saúde Pública (UnB). Saúde indígena: ao menos 1040 crianças indígenas morreram no Brasil em 2023, diz Cimi. Brasília, 2024. Disponível em: https://nesp.unb.br/saude-indigena-ao-menos-1040-criancas-indigenas-morreram-no-brasil-em-2023-diz-cimi/
. Acesso em: 13 out. 2025.
RIBEIRO, Darcy. Convívio e Contaminação: efeitos dissociativos da depopulação provocada por epidemias em grupos indígenas. Rio de Janeiro: Serviço de Proteção aos Índios, 1956.