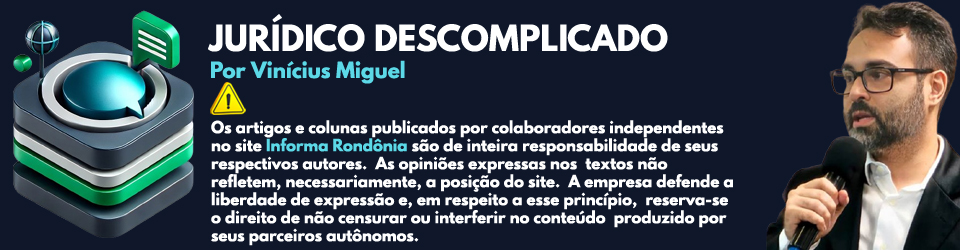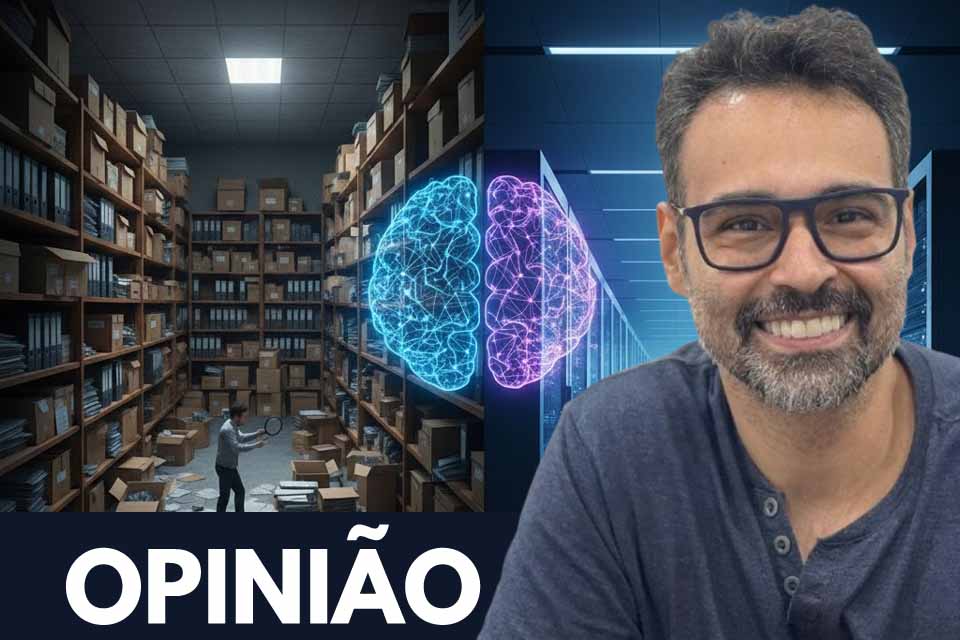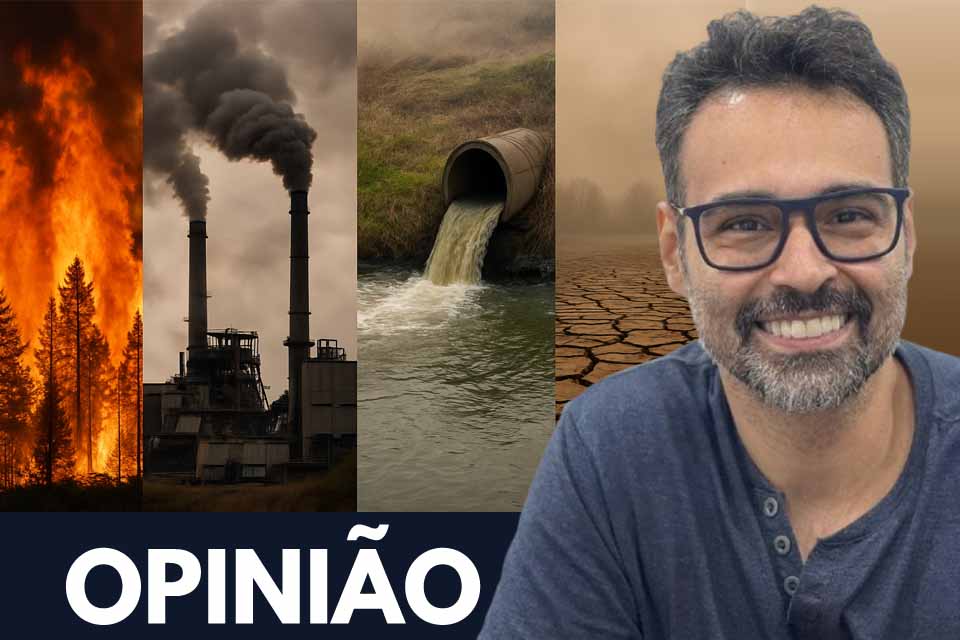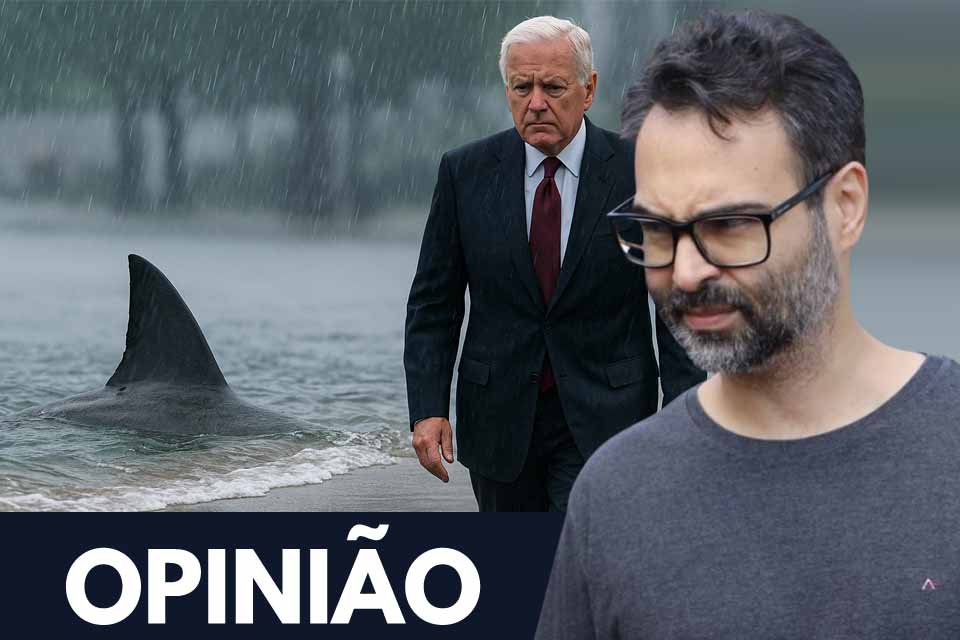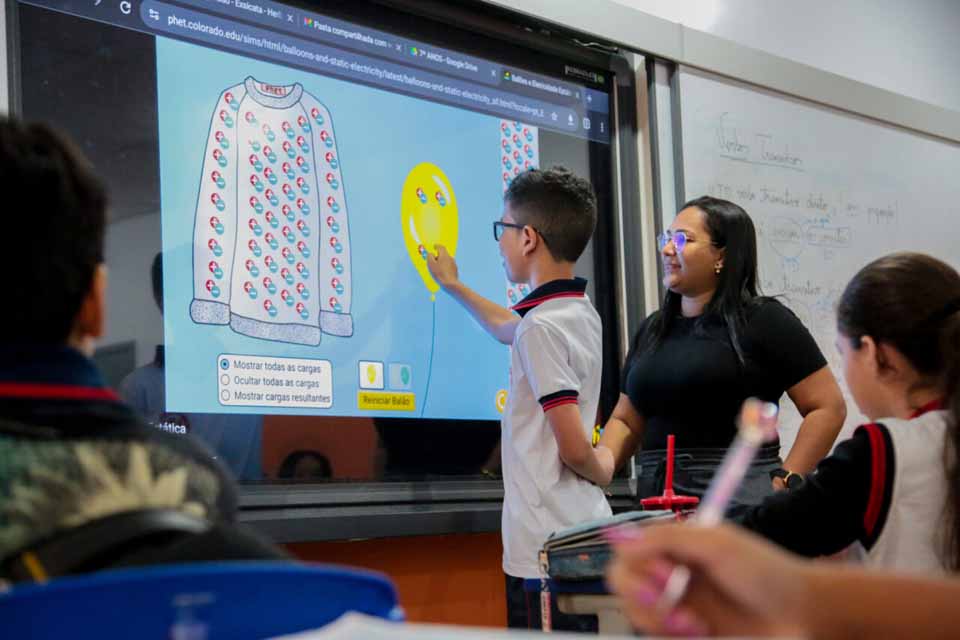A reivindicação do lugar de fala pelas pessoas autistas desafia paradigmas médicos e sociais, propondo uma nova compreensão sobre normalidade
A relação entre o conceito de lugar de fala e as vivências de pessoas autistas é uma emergência na Política Pública Contemporânea.
Historicamente, as pessoas autistas (e demais “anormais”, no irônico texto de Foucault) foram tema de discursos sobre, sem que fossem reconhecidas como sujeitos/produtores/agentes deste discurso.
Profissionais da saúde, como da medicina, psicologia, familiares e instituições diversas falaram em seu nome, muitas vezes com (alegadas ou supostas) boas intenções.
No entanto, sem a escuta ativa de pessoas autistas, nem sua presença como produtores de saber sobre si mesmos. O lugar de fala, nesse contexto, reivindica que pessoas autistas possam narrar suas próprias experiências, definir suas necessidades e participar das decisões que afetam suas vidas, especialmente nas áreas de saúde, educação e políticas públicas.
No tocante à legitimidade, as vozes autistas muitas vezes enfrentam uma dupla deslegitimação: por vezes, são vistas como cognitivamente incapazes de compreender sua própria realidade; por outras, são desconsideradas quando contradizem os saberes institucionalizados.
Essa deslegitimação cerceia os autistas de participação e de autoridade epistêmica (o direito de serem considerados fontes confiáveis de conhecimento sobre suas próprias condições). O movimento neurodiverso, surgido nas últimas décadas, combate essa lógica ao afirmar que a neurologia não normativa é uma variação legítima da condição humana, e não uma anomalia a ser corrigida.
A filósofa Judy Singer, que utiliza e dissemina o termo “neurodiversidade” nos anos 1990, propondo uma ruptura com o modelo médico centrado na “cura” para propor um modelo social de convivência com a diferença.
A discussão se alinha à crítica aos conceitos de normal e patológico, sobretudo como (re)formulada por Georges Canguilhem. Para ele, o patológico não é apenas uma ausência de normalidade, mas uma outra forma de normatividade. Assim, o funcionamento neurológico de uma pessoa autista não deve ser automaticamente considerado um defeito ou doença, mas um modo alternativo de perceber, processar e interagir com o mundo.
Aplicando essa percepção ao lugar de fala, é possível afirmar que a forma como autistas pensam e sentem gera um tipo próprio de normatividade, com lógicas, valores e formas de linguagem que precisam ser compreendidas em seus próprios termos — e não sempre traduzidas ou medicalizadas por outros.
Essa perspectiva também permite repensar a patologização social do comportamento autista. Muitas condutas que são vistas como “desvios” — dificuldade de contato visual, hipersensibilidade sensorial, padrões repetitivos — são interpretadas/percebidas/rotuladas como anormais/patológicas porque não se encaixam nas normas da maioria neurotípica. O lugar de fala desafia a sociedade a escutar as pessoas autistas sobre o significado dessas condutas, e não apenas diagnosticá-las.
Trata-se de invadir a lógica: ao invés de forçar a adaptação ao padrão dominante, é preciso transformar a norma para que ela seja plural, inclusiva e respeite diferentes formas de estar/ser/experimentar no mundo.
Nesse cenário, organizações de/e pessoas autistas vêm se destacando. O coletivo Autistas pela Neurodiversidade no Brasil, e movimentos internacionais como o Autistic Self Advocacy Network (ASAN), nos Estados Unidos, têm pautado o protagonismo autista na formulação de políticas e narrativas sobre o transtorno do espectro autista (TEA).
Autores como Jim Sinclair e Ari Ne’eman são referências importantes por defenderem que “nada sobre nós, sem nós” deve ser o princípio básico de qualquer intervenção.
AS ÚLTIMAS OPINIÕES
Essa abordagem converge com a crítica à exclusão epistêmica elaborada por Miranda Fricker, e com a ética da escuta defendida por Djamila Ribeiro no contexto brasileiro.
Portanto, ao reivindicar o lugar de fala para pessoas autistas, está garantindo direitos de expressão e participação, questionando os pontos sobre as definições entre o normal e o legítimo.
Essa rotura de paradigma é essencial para que políticas públicas, os saberes médicos/mentais e os espaços sociais repensem o modo de tratar as pessoas autistas, seja como objetos de controle ou objetos de pesquisa e passem a reconhecê-las como pessoas, sujeitos políticos, epistemológicos e culturais.
Tem-se aqui passo fundamental rumo à inclusão, acessibilidade e à dignidade para todos os modos de existência.
Referências
CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1995.
FRICKER, Miranda. Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing. Oxford: Oxford University Press, 2007.
RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento; Justificando, 2017.
SINGER, Judy. Why can’t you be normal for once in your life? In: DISABILITY DISCOURSE, London: Open University Press, 1999.
SINCLAIR, Jim. Don’t Mourn For Us, 1993. Disponível em: https://www.autreat.com/dont_mourn.html. Acesso em: 30 abr. 2025.
NE’EMAN, Ari. Autism as a minority group right: The politics of neurodiversity. In: TAYLOR, Steven J.; BOGDAN, Robert. Disability Studies Reader. New York: Routledge, 2010.
AUTISTIC SELF ADVOCACY NETWORK (ASAN). Disponível em: https://autisticadvocacy.org. Acesso em: 30 abr. 2025.
AUTISTAS PELA NEURODIVERSIDADE. Disponível em: https://www.autistas.org. Acesso em: 30 abr. 2025.